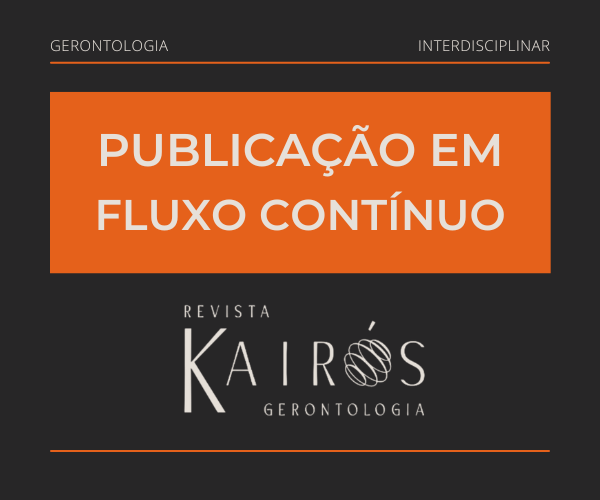As relações afetivas chegam em várias formas e jeitos, reafirmando que nem a vida, nem a velhice tem uma receita pronta de felicidade, que é a contabilidade total dos eventos que a compõem e a satisfação com as experiências em si que determinam o verdadeiro amor.
Karen Harari (*)
Qual o papel do amor longevo nos dias de hoje? É um sonho cada vez mais incomum? Uma forma de relação ultrapassada ou impossível na complexidade da modernidade? Em meio a outras perguntas fundamentais que têm se intensificado nos últimos tempos, como: quem cuidará de nós quando envelhecermos e como enfrentar a crescente solidão na velhice?, nos deparamos com a série documental da Netflix, Meu amor: seis histórias de amor verdadeiro, projeto do diretor Jin Moyoung, cujo título não revela a princípio a complexidade de reflexões possíveis que emergem nos seis episódios.
CONFIRA TAMBÉM:
Como a Disney representa o envelhecimento?
- 22/04/2021
O ageísmo e os memes da rainha
- 06/03/2021
Uruguai: Recomendações para ILPIs
- 28/04/2021
Cada episódio apresenta um casal que está há mais de 40 anos junto. As filmagens feitas ao longo de um ano acompanham o dia a dia, seus pequenos acontecimentos cotidianos, comemorações, projetos, dificuldades, relações de amizade e familiares, doenças e decisões sobre o futuro. Enfim, tudo o que compõem o tecido da vida em si mesma.
As histórias
As histórias são contadas em diferentes países: Estados Unidos (Direção de Elaine McMillion Sheldon), Espanha (Direção de Chico Pereira), Japão (Direção Hikaru Toda, Coreia (Direção Jin Moyoung), Brasil (Direção Carolina Sá) e Índia (Direção Deepti Kakkar e Fahad Mustafa). Os diretores locais garantem à produção um olhar genuíno no que concerne às realidades de cada casal e o ambiente na qual estão mergulhados.
Olhando para um panorama mais amplo dos seis episódios, emerge a percepção de que todos os países apresentam transformações de ordem econômica e ambiental que de alguma forma trazem mudanças nas relações sociais e exigem a busca por parte desses casais e daqueles que fazem parte de suas vidas, de soluções e mudanças que viabilizem o sustento, não apenas econômico, mas também de um estilo de vida.
No caso da Índia, fica claro que dificuldades econômicas decorrentes das mudanças climáticas afetam profundamente as relações sociais, esgarçando os vínculos familiares e de amparo, destruindo estilos de vida que fazem parte da manutenção das relações afetivas, deixando para trás os velhos que não podem seguir o restante da família na busca por sustento. É comovente assistir a tristeza deixada na casa esvaziada do convívio com filhos e netos, mas linda a cena entre marido e esposa buscando no laço de companheirismo a alegria para enfrentar esse momento difícil.
Em contraste, vemos o casal brasileiro que compõe uma família criada à base de vínculos afetivos, muito mais do que os vínculos de sangue, mas que nessa afetividade encontra toda força necessária para criar, sonhar e progredir. Em um contexto de pobreza, as duas mulheres, matriarcas da família, enfrentam a vida juntas, amparadas e amparando essa família nada tradicional.
No casal americano, vemos o envelhecimento em um país que oferece recursos e opções para que decisões importantes sejam tomadas em relação ao viver na velhice e também ao morrer. Isso não significa que em tais países não haja transformações significativas na realidade, como o fato de as fazendas e o estilo de vida rural terem que encontrar novas formas de subsistência. Essa é uma empreitada da comunidade e da família na qual o casal se sente profundamente enraizado e participativo.
O casal espanhol e coreano também enfrentam as mudanças na vida rural. Na manutenção dos eventos pautados nas tradições e nas estações fazem o suporte para o enfrentamento do corpo que muda, mas que ainda encontra grande satisfação em seus afazeres. A dificuldade de se ver limitado por desgastes do corpo, tem respostas que diferem de acordo com a personalidade, mas também com o significado que o trabalho tem para a vida de cada um. Mesmo assim há sempre as relações de apoio, vizinhos que cuidam uns dos outros e constroem pequenos bons momentos e a família que discute o futuro e expectativas.
Finalmente o casal do Japão, que com uma esperança invejável atravessou uma vida de preconceitos para criar a vida que desejavam. E agora, na velhice, trocam de papéis entre aquele que é o cuidador e o que é cuidado. Em todas as histórias vemos vidas construídas, não por casais fechados em si mesmos, mas cercados por relações afetivas que chegam em várias formas e jeitos, reafirmando que nem a vida, nem a velhice tem uma receita pronta de felicidade, que é a contabilidade total dos eventos que a compõem e a satisfação com as experiências em si que determinam o verdadeiro amor.
(*) Karen Harari – Graduação em Psicologia e Mestrado em Gerontologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atua em consultório clínico, docente do Espaço Longeviver e da Educação Continuada da PUC-SP. Colaboradora do Portal do Envelhecimento. E-mail: [email protected]