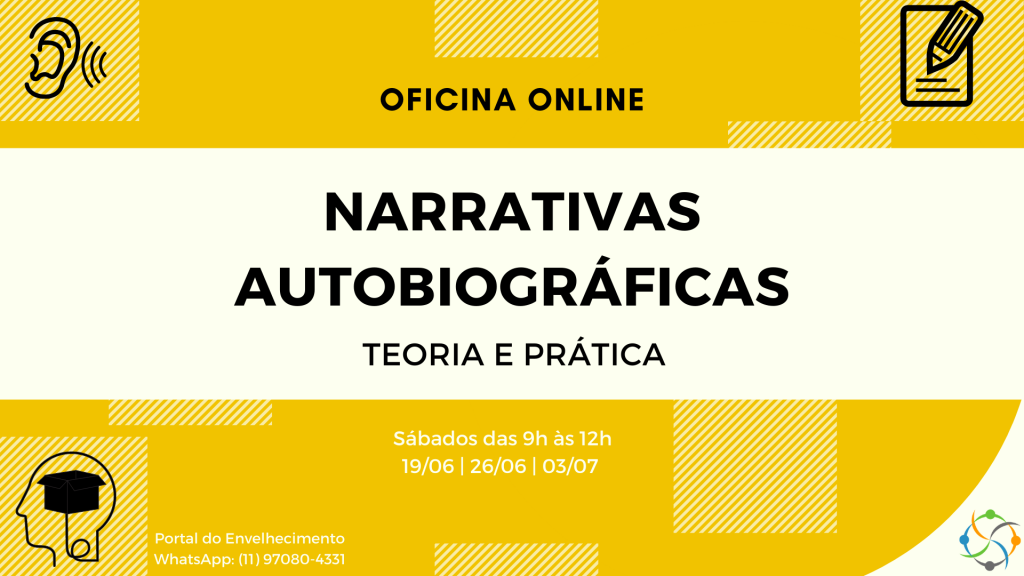Morta aos 87 anos, Eva Wilma fez dos palcos e da TV seu lugar por excelência e das ruas o ambiente para defender os direitos humanos.
Por Marcello Rollemberg (*)
Desde a noite do último sábado, dia 15, as redes sociais e programas jornalísticos mostraram insistentemente uma foto: seis atrizes de mãos dadas, em uma espécie de linha de frente empoderada, caminhando altivas e de joelhos de fora em seus vestidos de barra curta em meio àquela que se tornou conhecida como a Passeata dos Cem Mil. Era 1968 e uma multidão foi para as ruas do Rio de Janeiro em junho daquele ano para pedir o fim da ditadura militar, mais liberdade e o fim da censura no ambiente cultural, entre outras coisas que davam urticária aos generais de plantão.
E lá estavam aquelas seis atrizes, todas de primeira grandeza. Pela ordem em que aparecem na famosa foto estão Eva Todor (a mais velha do grupo, beirando os 50 anos), Tônia Carrero, Eva Wilma, Leila Diniz (a mais jovem, então com 23 anos), Odete Lara e Norma Bengell. Esse instantâneo de um momento relevante na história recente do Brasil é emblemático por, entre tantas outras razões, registrar o ato em si, mostrar a participação de nomes importantes da cultura nacional em meio a anônimos, todos querendo a mesmíssima coisa – o fim do tacão militar -, e por unir em um mesmo quadro nomes que são hoje referência quando o assunto é cinema, teatro e televisão no Brasil.
CONFIRA TAMBÉM:
Relatividade não muito relativa
- 09/12/2020
Mas que também sabiam fazer da arte uma ação política, no sentido mais amplo do termo. “Estávamos sufocados pela censura, que não permitia que se falasse do que se passava nem com o uso de metáforas”, relembrou Eva Wilma, anos depois.

Daquele sexteto, apenas Eva Wilma ainda estava viva. E foi justamente sua morte, no dia 15, aos 87 anos, que fez com que se resgatasse aquela imagem, entre tantas outras que registram uma vida inteira dedicada às artes cênicas, mas também à defesa dos direitos humanos. Porque Eva Wilma, se estava na Passeata dos Cem Mil, cerca de dez anos depois estava de volta às ruas, desta vez para clamar pela anistia “ampla, geral e irrestrita”. Ao longo de 65 anos de carreira, a atriz interpretou inúmeros papéis, que forjaram sua fama inquestionável. E foi nas ações em prol das lutas sociais que ela fechou um arco que dá bem a dimensão de sua importância, dentro e fora da dramaturgia brasileira.
E de sua coragem, como ao montar com seu primeiro marido, o também ator John Herbert, em 1970, a peça Os Rapazes da Banda, do americano Mart Crowley. A peça, que não escapou do olhar persecutório da censura, retratava a vida de amigos homossexuais. E pensar que, 50 anos depois, o preconceito continua à solta. “Ela era generosa, disciplinada, sublime. Ainda muito nova, eu tive a honra de assistir, aprender e dividir a cena com ela e sou muito grata por isso. Nossa cultura perde uma mãe e nossa democracia perde uma grande aliada”, afirmou a atriz Leandra Leal.

Raquel, Ruth e doçuras
Filha de pai alemão e mãe portenha, Eva Wilma Riefle Buckup Zarattini – os dois últimos sobrenomes oriundos de seus casamentos, primeiro com John Herbert, de 1955 a 1976, e depois com Carlos Zara, de 1979 a 2002 – sempre esteve ligada às artes e ao palco. Sua primeira paixão foi o balé clássico, que ela começou a praticar aos 14 anos e que a levaria a se apresentar no Teatro Municipal de São Paulo em 1953, ao lado do Corpo de Balé do IV Centenário de São Paulo. No terceiro mês de apresentações, a chance no teatro: o então diretor e produtor do Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), José Renato, a convidou para fazer parte da primeira turma de teatro de arena. A partir daí, Eva Wilma – ou “Vivinha”, como os amigos a chamavam – enfileirou sucessos nos palcos, entre eles Esperando Godot, Um Bonde Chamado Desejo e A Megera Domada. Foram cerca de 60 peças, com as quais a atriz ganhou fama e muitos prêmios, como o Shell e o da Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA).
Mas foi na TV que Eva Wilma acabou por ganhar definitivamente a fama merecida que a acompanhou a vida inteira. E logo nos primórdios da televisão no Brasil. Ao lado do onipresente John Herbert, ela protagonizou entre 1953 e 1963, na TV Tupi, aquela que talvez seja a primeira sitcom da TV brasileira: Alô, Doçura, uma espécie de resposta caseira para o sucesso americano I Love Lucy, estrelado por Lucille Ball e seu então marido Desi Arnaz. A série chegou a entrar no livro dos recordes como a mais longa da televisão brasileira.
E foi também na Tupi que Eva Wilma interpretou um de seus maiores sucessos em novelas, a primeira encarnação das gêmeas Ruth e Raquel, na novela Mulheres de Areia. Mais tarde, na segunda versão feita pela Globo, o papel das gêmeas seria de Glória Pires. Eva Wilma ficou na emissora criada por Assis Chateaubriand até seu fechamento definitivo, em 1980, quando se mudou para a Globo – aí, já com ares de grande dama da dramaturgia televisiva, além da consagração no teatro.

Dona de um naipe interpretativo que a levava dos papéis dramáticos aos cômicos sempre com maestria, Eva Wilma encontrou o paroxismo de personagens tão díspares na vilã Maria Altiva Pedreira Mendonça de Albuquerque, na novela A Indomada, de 1997. Ao criar uma personagem ao mesmo tempo cômica e perversa – que tinha no divertido bordão “óxente, my God” sua marca registrada -, a atriz reafirmou mais uma vez seu talento e sua dedicação aos personagens que vestia – que, de resto, não era mais novidade para ninguém.
Uma dedicação tão grande que nem mesmo doente ela quis arrefecer. Já internada para tratar de problemas cardíacos no último mês – foi durante a internação que o câncer no ovário que a mataria foi descoberto -, Eva Wilma ainda encontrou forças e tempo para finalizar seu último trabalho, o filme As Aparecidas, de Ivan Feijó – apesar de pouco mencionado, a atriz fez mais de duas dezenas de atuações no cinema. Mesmo na UTI do Hospital Albert Einstein desde 15 de abril, ela fez gravações de áudio para o filme, no qual interpreta a personagem “Otília”.
Na noite de 19 de abril, por exemplo, a equipe da artista compartilhou nas redes sociais uma foto em que ela, na cama, aparecia estudando o texto. “Quem tem arte na veia sabe que o show tem que continuar”, dizia a legenda da publicação. E vai continuar. Só que, agora, mais empobrecido.
(*) Marcello Rollemberg – Escreve para o Jornal da USP. Matéria publicada em 17/05/2021